Vivemos o tempo de um jeito, mas o pensamos de outro: aí está talvez a grande descoberta da filosofia de Bergson
Eduardo SochaIlustração Sattu
Você está parado no trânsito às 6 da tarde. Ouve a rouquidão opaca dos motores dos ônibus, o zumbido das motos, a impaciência ocasional das buzinas. O tempo parece amordaçado como se não quisesse fluir também. Então você resolve tirar do bolso seu tocador de mp3, ajeitar bem os fones de ouvido e escolher uma faixa do álbum predileto. Sua experiência do tempo vai assumindo outra feição, e os instantes passam a se amalgamar uns aos outros com uma qualidade bastante distinta do tempo anterior. A quantidade de tempo não muda: um segundo continua um segundo, tautologia assegurada pela isocronia do ponteiro (oudisplay) do relógio. Mas você sente agora que os instantes se dilatam e se contraem segundo uma contingência peculiar, promovida pelo encadeamento sonoro da música. Antes amordaçado, o tempo agora corre mais rápido ou anda mais devagar, dando-lhe a certeza de que sua percepção da passagem do tempo, enquanto ouve música, não coincide com aquela enquanto ouvia apenas ruídos do trânsito. Ao contrário do que sugere a cadência fixa do relógio, você realmente não sente os instantes de maneira quantitativa e exata. Ou seja, a passagem do tempo não é vivida pela sua consciência à semelhança de um relógio, no qual uma série quantitativa, marcada pela divisão em segundos, minutos e horas estabelece previamente a equivalência de todos os instantes. Na realidade, você vive uma sucessão ininterrupta de momentos qualitativos que não são divisíveis entre si, que se misturam uns aos outros e se organizam em sua memória com um aspecto único e intraduzível.
Dito de outro modo, vivemos o tempo de um jeito, mas geralmente o pensamos de outro: esse enunciado, banal apenas na aparência, deu esteio a paradoxos reincidentes na história da filosofia. De fato, estamos condicionados a pensar o tempo como uma dimensão quantitativa, cujos elementos internos são homogênos e definidos de antemão, o que nos permite balizar o tempo por meio de segundos, minutos, horas, dias, meses, anos e outras unidades de medida, conforme a conveniência da nossa necessidade particular. Assim, por força do hábito e, mais do que isso, por imposições práticas e fundamentais de sobrevivência, identificamos o tempo com uma linha sequencial de eventos. Consequentemente, construímos instrumentos e técnicas a fim de mensurá-lo, orientando nossas atividades partindo de segmentações apropriadas, seja no uso do relógio de césio, da clepsidra, do calendário, do azimute do sol ou do ciclo das marés.
Contudo, no interior de nossa experiência vivida, sentimos o fluxo do tempo como uma multiplicidade indivisível e heterogênea, que a cada instante se altera, se dilata, se contrai, reconfigurando instantes já passados, criando expectativas para instantes futuros. Por maior que seja nossa capacidade de antecipação, vivemos sob a torrente criadora da imprevisibilidade e da mudança, o que não nos impede de agir e pensar com regimes específicos de previsibilidade. Tal constatação, que sentimos na experiência mais trivial do nosso dia a dia, poderia ser finalmente resumida assim: os instantes, em instrumentos como o relógio, são sempre iguais entre si; quando vividos, são sempre diferentes.
Fácil na aparência
Reconhecemos desde já, portanto, duas modalidades para definir a noção de tempo. Por um lado, há o tempo considerado em uma dimensão quantitativa, tempo que pode ser medido, representado conceitualmente, submetido a cálculos e previsões: o tempo objetivo que, afinal, não depende de nossa consciência nem de nossa situação particular. Por outro, há o tempo considerado como fluxo qualitativo, íntimo, ligado aos estados internos da nossa consciência e, por isso, refratário ao cálculo e ao conceito: o tempo subjetivo que corresponde à efetiva passagem dos instantes nas nossas diferentes situações de vida. Não se trata de dualismo, mas de duas faces distintas para compreendermos com maior precisão aquilo que designamos singularmente pela palavra “tempo”.
Não seria exagerado dizer que toda a obra filosófica de Henri Bergson (1859-1941) apoia-se na “descoberta” dessa realidade. Por mais singela que ela aparente ser, a distinção entre duas modalidades de compreensão do tempo convida a uma reforma complexa e radical do pensamento. Daí a grande armadilha na filosofia de Bergson, com a qual eventualmente se deparam tanto o leitor iniciante quanto o especialista. Sua linguagem às vezes mostra-se fácil e acessível na superfície das frases, nas metáforas balanceadas pela argumentação formal e impecável, na textura cristalina da prosa em um registro meditativo. Nesse sentido, não é casual que tenha recebido o Nobel de Literatura, em 1927, sem nunca ter escrito uma obra de ficção. No alcance de seu conteúdo e na profundidade da reforma que ambiciona, porém, a complexidade do projeto rigoroso de Bergson o coloca entre os precursores do pensamento contemporâneo, assegurando-lhe lugar no panteão dos pensadores mais ambiciosos da história da filosofia.
Sem dúvida, uma ousadia quase messiânica permeia a originalidade do gesto teórico de Bergson. Pois, tomando a confrontação do tempo como ponto de partida para o ato de filosofar, o pensamento bergsoniano ambiciona não apenas a revisão de uma filosofia específica (o que perpetuaria o anátema de Kant segundo o qual a metafísica se reduz a um eterno “palco de disputas” entre doutrinas), mas ambiciona a revisão da filosofia em geral. Ora, para Bergson, “filosofar consiste em inverter a marcha habitual do trabalho do pensamento”. Mas, para que tal inversão ocorra, torna-se necessário reenquadrar metodicamente alguns dos problemas clássicos da metafísica – como os problemas da liberdade, do ser, da necessidade e contingência, da relação entre corpo e alma – segundo os parâmetros oriundos da “descoberta da duração”.
Ilusões da percepção
Usamos a palavra “duração”, provavelmente o termo mais importante do pensamento de Bergson, e menos saturado de sentido do que a palavra “tempo”. Seu significado não poderia ser mais direto: a duração refere-se ao tempo qualitativo que descrevemos acima, àquela natureza contínua do tempo. Nas palavras do filósofo, trata-se daquilo “que sempre se chamou de tempo, mas o tempo percebido como indivisível”.
Bergson aponta para a confusão histórica que se estabelece entre a duração (tempo qualitativo), que não pode ser traduzida por símbolos, representações ou conceitos, e a medida da duração (tempo quantitativo, espacializado). No torvelinho dessa confusão, observa que a metafísica ocidental colocou para si uma série de dificuldades intransponíveis, que invadem o raciocínio de maneira não enunciada e sub-reptícia. Já na Antiguidade, os eleatas proscreviam ao tempo, à mudança, ao movimento, à mobilidade o direito de cidadania ontológica. Seriam, afinal, ilusões da nossa percepção e degradação de essências, pois “o verdadeiro é o que não muda”. Mas, para Bergson, os famosos “paradoxos de Zenão” já apontavam para a equivocidade caracterizada pela ausência de distinção entre tempo quantitativo e tempo qualitativo, ou seja, pela identificação exclusiva do tempo com uma projeção espacializada de instantes – equivocidade que se perpetuaria, por exemplo, na cisão platônica entre mundo inteligível e mundo sensível, no cogito cartesiano, ou nas antinomias descritas na Crítica da Razão Pura, de Kant.
Para além de paradoxos e antinomias, o que Bergson procura detectar historicamente na filosofia e também na ciência de seu tempo é tanto o privilégio ontológico concedido às formas estáveis, à imobilidade, às representações conceituais, quanto a desconfiança em relação aos sentidos, à mobilidade, à fluidez instável do devir, às sensações que se transfiguram na consciência, como fontes autênticas do conhecimento. O tom grandiloquente da declaração mostra o tamanho do combate a ser empreendido: “Nenhuma questão foi mais desprezada pelos filósofos quanto a do tempo e, no entanto, todos concordam em declará-la fundamental (…). A chave dos maiores problemas filosóficos está aí”, escreve em Duração e Simultaneidade, livro que se propõe a debater, em solo científico, nada menos do que o conceito implícito de tempo, assimilado como quarta dimensão do espaço, na Teoria da Relatividade, de Einstein. Para o filósofo, o exame da Teoria da Relatividade justifica-se na medida em que toda formalização científica carrega consigo os pressupostos de uma metafísica particular que resiste em se apresentar como tal.
Pensar em duração
Mas, em se tratando exclusivamente de filosofia, “inverter a marcha habitual” do pensamento significa mostrar, antes de mais nada, que boa parte de suas questões clássicas seria dissolvida como “falsos problemas” mediante o reconhecimento da natureza qualitativa do tempo. Para tanto, o método bergsoniano exige um pensar em duração – a intuição, que pouco ou nada tem a ver com a acepção que comumente damos à palavra. O método comportaria duas etapas indissociáveis: a “etapa crítica” e a “etapa propositiva” (como esclarece o livro monumental de Bento Prado Júnior Presença e Campo Transcendental – Consciência e Negatividade na Filosofia de Bergson).
Na etapa crítica, cuja forma mais acabada seria o “lance de olhos na história dos sistemas” que Bergson realiza no último capítulo de Evolução Criadora (sua obra mais conhecida), descreve-se a progressiva racionalização do tempo e o ocultamento de seu aspecto qualitativo no campo do conhecimento. Bergson considera que o próprio embate epistemológico entre idealismo e realismo está contaminado pelos vícios de um jogo de ideias abstratas que não aderem efetivamente à realidade, que ignoram a presença substancial da duração.
Evidentemente, o jogo não é gratuito, pois há uma propensão natural do pensamento à dimensão prática da existência humana, e sua “marcha habitual” equivale a recortar da realidade a face útil, abstrata, calculável, que favorece a ação. “Pensar”, diz Bergson, “consiste em ir dos conceitos às coisas, e não das coisas aos conceitos”, o que leva a ciência e o senso comum a considerar o tempo e o espaço como coisas do mesmo gênero. Por isso, aliás, dizemos que podemos “medir”, “localizar” e “situar” um momento qualquer na “linha” do tempo – às vezes, não nos damos conta de que esses termos se aplicam não à duração em si, mas a uma projeção espacializada da duração na qual seria possível até “voltar” no tempo.
Ocorre que a inclinação pragmática do pensamento, que sobrepõe um feixe de conceitos e ideias à realidade, contamina a especulação metafísica, forçada a se acomodar aos hábitos de uma linguagem que estabiliza e cristaliza o devir em palavras e conceitos. Na etapa crítica, é preciso, portanto, denunciar a intrusão de uma concepção espacializada de tempo lá onde menos se espera. Assim, cada livro e cada ensaio de Bergson empenham-se na “depuração” crítica das concepções espacializadas da duração que permeiam o campo do conhecimento filosófico.
A partir daí, o filósofo reposiciona nossa maneira de entender a liberdade, a memória, a percepção, a existência, a linguagem, a evolução vital. Na etapa propositiva do método, paralela à crítica, trata de afirmar que tempo é processo, é justamente aquilo que impede que tudo seja dado de uma só vez. Pensar em duração é pensar a própria transição vivida entre os instantes, é ver na elaboração do tempo a indeterminação das coisas. Ao conceder maior estatuto ontológico àquilo que muda e se diferencia, ou seja, dando mais “Ser” ao “Tempo” do que às “Formas”, Bergson encontra na duração não mais o receptáculo formal e vazio a ser “preenchido” pelo conteúdo da experiência (como acontece no relógio), mas redescobre a duração como a experiência imediata à consciência, forma e conteúdo inseparáveis, trazendo implicações para um conhecimento que não mais reconstrói a realidade com base em conceitos e formas, mas que adere às “sinuosidades” e às diferenças qualitativas da realidade.
A tarefa parece difícil. “Sim, o tempo é um enigma singular, difícil de resolver”, sentenciava Thomas Mann em A Montanha Mágica. No entanto, tal enigma se dissipa quando resolvemos inverter a marcha habitual do pensamento. Quando reencontramos, afinal, nem que seja por um tempo, a interioridade vivida dos ruídos e silêncios do próprio tempo.

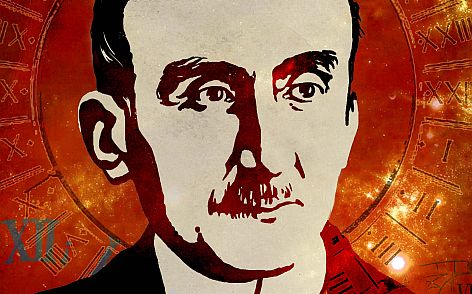
Nenhum comentário:
Postar um comentário